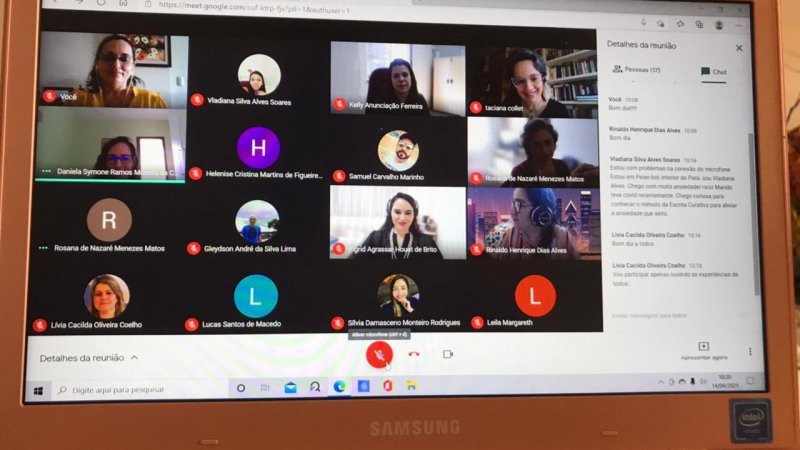Água quente que queima saudade

Chimarrão nunca me desceu bem. Quando criança, via meus tios no interior do Rio Grande se sentarem em roda e a cuia passava fumegando de mão em mão. Quando chegava em mim, eu pulava. O primeiro gole da vida tinha queimado minha língua e deixou um gosto amargo demais para uma segunda vez. Não tinham avisado pra menina goiana que a água era tão quente. Traumatizei.
Mesmo assim cantarolava com meus primos: “Chimarrão com água quente numa cuia com bombinha, faz milagre cura a gente de qualquer indigestão.” E soltava uma gargalhada gostosa ao fim daquela cantoria.
Meu pai, gaúcho que virou goiano por título e tempo de solo, levou o hábito para Rio Verde, minha terra natal. Quando era vivo, preparava o chimarrão religiosamente todos os dias, mas tomava sozinho. Só ele gostava. E não era só o mate. No fogão mezzo goiano mezzo gaúcho lá de casa, a polenta sapecada convivia bem com o pequi no milho verde. E eu nem ligava para aquela insistência do meu pai em trazer para Goiás um cardápio tão fora do contexto.
Dia desses, no trabalho, contei meu desgosto por café para uma amiga gaúcha de carteirinha. Imediatamente ela sacou do armário a garrafa com água quente e me ofereceu um chimarrão. Eu abri um largo sorriso de saudade. A tarde cinzenta me fez aceitar sem resistências ou desculpas. Será que a erva continuava tão amarga?
Peguei a cuia com a delicadeza de quem segura uma taça de cristal, fechei os olhos e bebi aquela mistura que nem estava tão quente. Um gosto de infância foi descendo, fazendo brotar água nos olhos. Sentei frente a frente com minha amiga e fomos abastecendo a cuia com nossas memórias. Por alguns bons minutos, ela me trouxe a eternidade. Trouxe meu pai pra junto de mim. Trouxe meus tios e primos que moram a léguas de distância.
E nessa roda imaginária que fizemos, consegui entender porque meu pai, tão longe dos seus irmãos e dos próprios pais, mantinha o solitário ritual de sorver aquela água que queimava a língua. Ela queima é saudade.